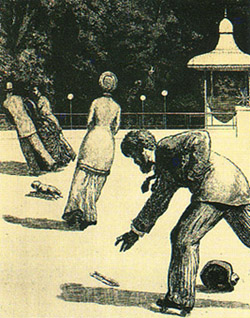UMA GUERNICA MAL-ASSOMBRADA
No madrigal de muitas horas. O abandono de objetos
impessoais deixados para trás. Um punhado de gesso secou no canto da sala de
estar. A grama cresceu nos vãos do assoalho outrora bem encerado. Três moedas
sem valor estavam escondidas ao meio do excesso de pó no alpendre já
destelhado. Alguns pregos enferrujados dormitavam sobre um pedaço de estopa cor
de terra. Vários trechos de parede já caíram. Desta forma beijos de luar varrem
um canto do quarto principal de dormir, onde agora repousam folhas secas
acumuladas desde os últimos vinte anos. Aquela casa era mal-assombrada. Isto,
sem peias, diziam os moradores daquela cidadezinha de Minas Gerais. “Não estou
atrasada não, mamãe”, súbito aquela casa em ruínas ganha vida. O telhado se
recompõe, as janelas e portas voltam aos seus lugares. Até o cortinado de voal
se põe a esvoaçar com a mais leve brisa de verão. Apenas para observarmos
fielmente o que se disse até aqui. Desde Agiotti, Callabrese e Martelleti. Sabia-se
desses impasses em relação à uma estória instável e cambiante. Personagens que moram
nos livros são como aves de arribação. No entanto, paradoxalmente, eles adoram
ficar emparedados entre duas capas. Nós, leitores, somos quem os liberta deste
tipo de crisálida. Entretanto são brevíssimos os estudos que tratam da
liberdade de ir e vir do personagem em uma estória dita verídica. Os livros são
suas casas, assim como também são os melhores amigos dos leitores. A quem então seriam fiéis os personagens? Ficariam eles devendo algum tipo de subordinação ao
leitor, ou o autor é quem teria o privilégio de mando no destino exemplarmente
submisso do personagem? Em geral, as pessoas que lêem trechos filosóficos e,
diríamos, assustadores até, quando lidos em aeroportos, fila de lotações,
metrôs lotados, sala de espera de dentistas, e locais afins, não se preocupam
muito se o personagem deve ficar ou não restrito ao livro. Há alguma leviandade
do leitor que aproveita o tempo para levar o personagem de alguém para passear
junto com eles. Mal sabem esses incautos leitores da preferência do personagem
por ficar dormitando ao lado de uma rede ou sobre um criado-mudo às espera de
uma leitura responsável e pensada. Em resumo, reafirmamos que o livro pertence
ao leitor enquanto o personagem não é dono de nada, além de ser leviano, irresponsável,
chispante, sem emprego ou profissão definida. Eis que se joga novamente o laço
na estória que foi até aqui pessimamente contada. Finalmente Dalila desceu as
escadas para se despedir, à porta, de sua mãe aflita. Ambas sabiam que aquela
seria a ultima visita ao banco feita por Dalila já que, com o falecimento do
pai, tanto ela como a mãe resolveram deixar aquela casa e mudarem-se para o
Canadá, onde Dalila tem uma promessa de casamento vinda de um magnata da
família dos Rotondi, donos de uma empresa de gravações musicais na cidade de
Montreal. Isto de fato ocorrera. Em menos de um mês Dalila estava casada com
Estéfano Rotondi e nunca mais voltou para o Brasil. Vivendo no Canadá, a Sra
Rotondi se esquecera completamente da velha casa no interior de Minas. Esta casa que foi aos poucos ficando decadente e se tornou uma ruína tida nos arredores como
assombrada. Mas há quem desafie a idéia das tais visagens sobrenaturais. Hoje
alguns corajosos meninos daquela cidadezinha mineira cismaram de visitar a casa
mal-assombrada durante a noite. Eles se muniram de faroletes e invadiram a
propriedade às nove e quarenta e cinco da noite. Os grilos cantavam ali, mais
até do que em qualquer outro lugar na cidade. Havia também pirilampos
ocasionais. De resto o vento zunia nos espaços abertos das paredes e isto fazia
os meninos ficarem assustados. No mais, aquela casa sob as luzes dos faroletes
parecia-se mesmo era com as ruínas da cidade espanhola de Guernica após os
bombardeios de 1939. Mas tudo isto não passa de uma comparação metafórica vinda
de um leitor pouco afeito à saltitante projeção de sombras quando alegremente
vindas de uma dezena de faroletes, as quais dançam o tempo todo na mão de
crianças um tiquinho só assustadas. Em resumo, personagens nenhuns. Então não
há estória que se sustente muito tempo na ausência de personagens. Assim dá-se por
adiado o descrever desse conto da Guernica assombrada.
Beto Palaio
Foto: Eugene Richards